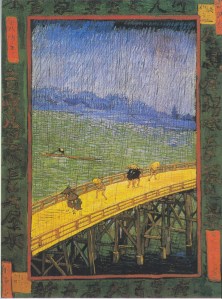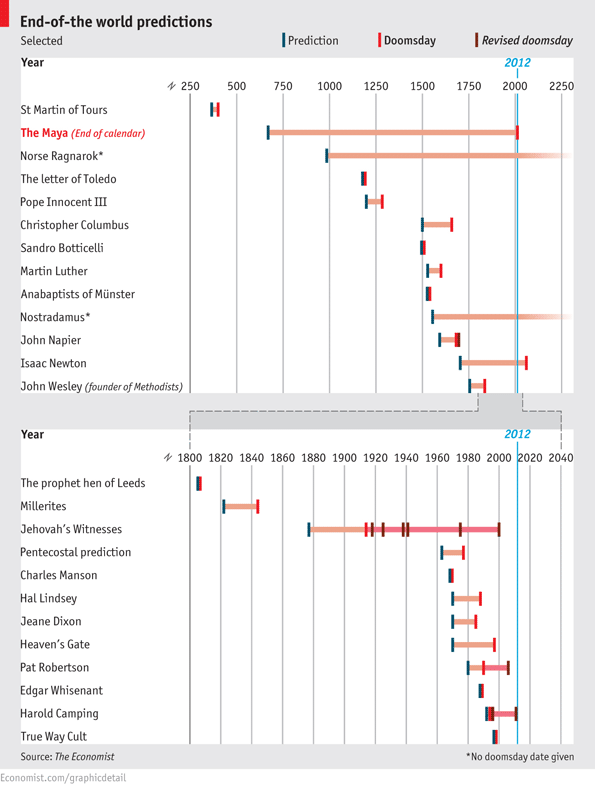“Pelo rangido dos dentes, pela cidade a zunir
E pelo grito demente que nos ajuda a fugir
Deus lhe pague”
Chico Buarque
Há cada vez mais entusiastas entre os brasileiros. Entusiastas de nada de muito bom, já que de muito bom nada tem acontecido por aqui. Digo “entusiastas” pensando em Voltaire:
“Não há o que ganhar [ao discutir] com um entusiasta”.

“Entusiasta” vem de termo grego que significa “tomado por uma divindade”. Basicamente, o entusiasta é um possuído.
A frase de Voltaire está nas suas Lèttres Anglaises, um comentário a respeito de seu contato com um quaker. “Quaker”, mal traduzindo, é algo como “aquele que se sacode”. Os quakers eram (e são) cristãos que, no que interessa aqui, não admitiam padres, pastores, qualquer autoridade religiosa ou política, nem qualquer ascendência social de alguém sobre seus membros, ou “amigos” – o nome oficial dos quakers é Sociedade Religiosa de Amigos, ou Igreja dos Amigos.
Numa reunião de quakers – seu culto – qualquer um dos presentes podia tomar a palavra. A palavra era de quem se sentisse imbuído da presença de deus – noutras palavras, quem estivesse possuído ou entusiasmado. E esse entusiasmo se manifestava por meio de espasmos não muito diferentes em natureza, mas definitivamente diferentes em ritmo, daqueles que o brasileiro reconhece na umbanda. Esses espasmos é que deram a eles o apelido de “quakers”, os que sacodem.
Eram quakers os puritanos que fugiram da perseguição religiosa na Inglaterra e chegaram à América no Mayflower. Os quakers, por não reconhecerem qualquer autoridade, tratavam a todos como iguais – não porque se importassem com desigualdade e sim porque, na atitude de não tirar o chapéu diante de alguém de família nobre, e esse era o caso de Voltaire, estariam afirmando a autoridade única de deus. Claro que essa turma não era bem-vinda na monarquia inglesa de privilégios e rapapés.
Para os quakers todos eram iguais, porque não reconheciam ninguém acima deles. Abaixo era outra história. E foi esse senso peculiar de igualdade que os fez selar, dali para o futuro, o destino dos índios norteamericanos.
Pois o Brasil anda tomado de quakers. Mas um tipo tropicalizado de quaker. Pessoas entusiasmadas com suas crenças políticas. Uma Sociedade de Amigos que, quando um deles fica possuído, passa a tratar de Política. Amigos entre eles lá, que, como o quaker de Voltaire, não respeitam ninguém quando querem impor suas ideias prontas a quem não seja da sua turma – no caso brasileiro, a quem não tenha comprado as mesmas ideias na banca de revistas. Os daqui, adotam como credo não só as ideias que compram, mas também o tom de quem as escreve e publica, um tom belicoso, um tom de confrontação, um tom histérico, um tom grosseiro, um tom assim, nada Leblon, nada Jobim.
O exótico membro daquela Igreja dos Amigos que Voltaire encontrou em Londres comporta-se na essência como aqueles entusiastas com que Chico Buarque se deparou ontem em pleno Leblon: uma ação entre amigos que, já que estavam lá e já que estavam bêbados, então nada melhor a fazer do que tratar sem respeito a todos e impor suas frases – tão feitas como versículos da Bíblia – ao maior compositor da Música Popular Brasileira, a um ícone da liberdade contra a ditadura, a um homem sem o qual ser brasileiro seria ser muito menos.
Mas os exóticos quakers tropicais, como bons sacolejadores, não reconhecem valor a quem não seja dos seus, falam em espasmos e dentre eles toma a palavra aquele que estiver mais raivosamente possuído. Aos quakers da hora, que não têm cabeça para a política, apenas falam de “política” quando perdem a cabeça, a eles Chico Buarque respondeu com elegância e simpatia, sem no entanto fazer concessões.
A empáfia dos quakers brasileiros pode ser entendida se analisarmos o fundamento religioso dos quakers ingleses, que está em Pedro 2:9:
“Mas vós sois a geração eleita,
o sacerdócio real,
a nação santa,
um povo peculiar*,
para que anuncieis as virtudes
daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz”
É de se supor que os quakers que foram pregar ontem no Leblon tenham saído dali alardeando entre si coisa não muito diferente dessa passagem de Pedro. Em lugar de “geração eleita”, algo como “Nós somos foda”; em lugar de “sacerdócio real”, algo como “Quem manda nessa porra somos nós”; em lugar de “nação santa”, algo como “Eu sou brasileiro!” – como se o próprio Brasil não fosse Chico; e, por fim, em lugar de “povo peculiar”, algo como “Gente de bem”.
É fácil antecipar um ou dois nomes cujas trevas esses quakers confundam com uma maravilhosa luz, assim como é fácil antecipar até onde pode ir sua pregação.
Caio Leonardo
*”Peculiar” é como consta da King James’s Bible.